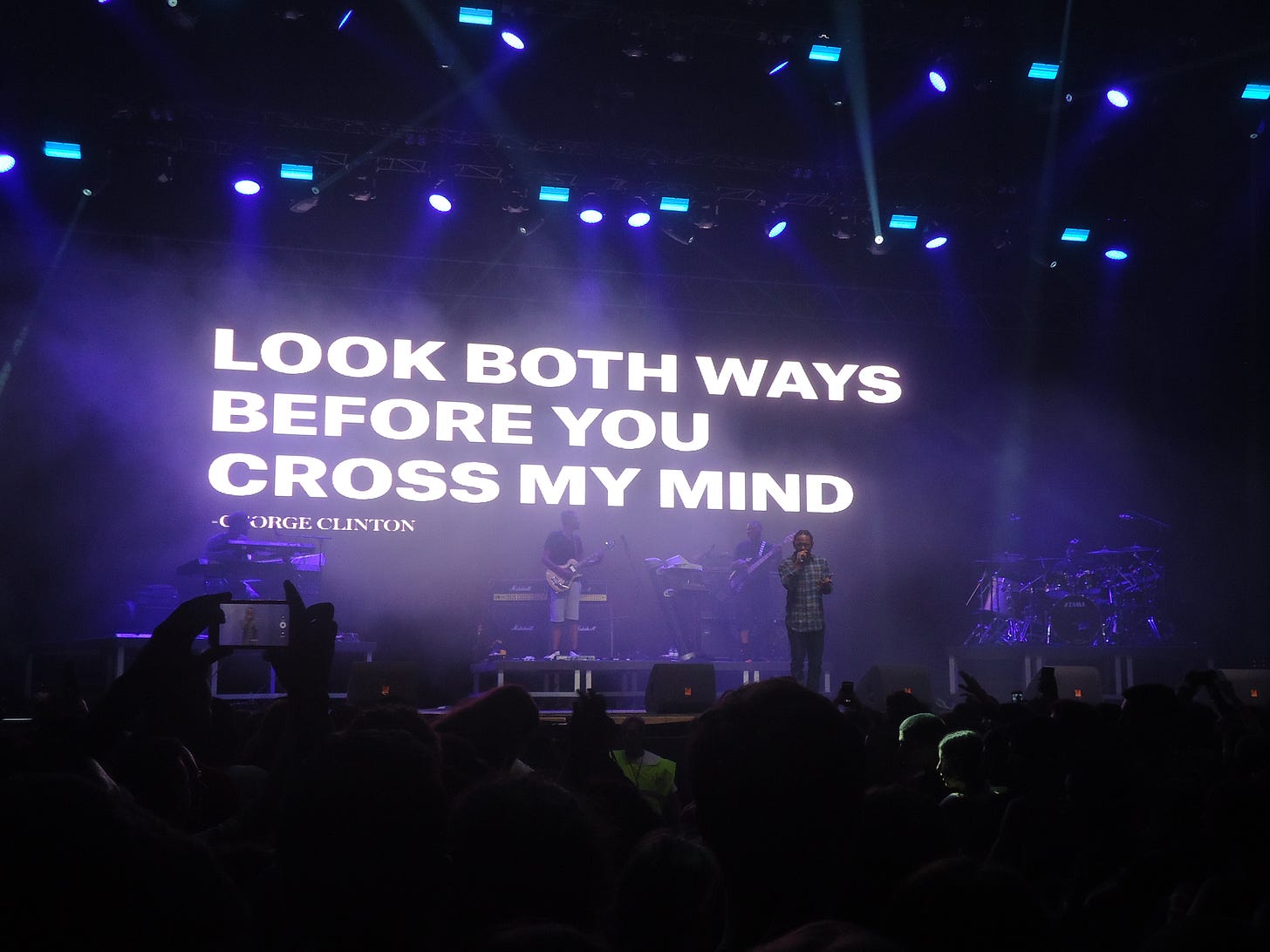Foto: Super Bock Super Rock
Efemérides são como a idade: podem ser apenas um número se olharmos para elas como um palácio, ou ser muito úteis à reflexão e debate se as observarmos como uma história em movimento, inalianável do presente.
Os 50 anos do hip-hop, fixados a 11 de agosto, desde que Kool Herc misturou dois discos em simultâneo na festa de aniversário da irmã mais nova Cindy, num Bronx de má fama, sintetizam na plenitude o estado da nação. Por um lado, a maturidade da cultura já permite ver-se ao espelho com reconhecimento pela memória dos seus arquitectos. Sem eles, não haveria suites nem piscinas no terraço.
O aniversário foi celebrado com eventos de grande escala como as oito horas do Hip Hop 50, no Yankee Stadium, com figuras como Lauryn Hill, Nas, Common, Ghostace Killah, Lil’Kim ou Ice Cube; concertos de alguns dos pais do movimento, de Big Daddy Kane, a Run DMC, LL Cool J a Snoop Dogg, com exposiçōes alusivas, murais por toda a parte, dedicatórias de figuras como Barack Obama ou Kamala Harris, e sobretudo o reconhecimento planetário enquanto pilar cultural. O hip-hop nunca esteve tão exposto, nem nunca foi tão transversal, das classes baixas às mais altas instituiçōes, nem nunca teve tantas mulheres a falar por ele, mas isso não quer dizer que não enfrente resistências culturais, sociais ou raciais. Quanto maior a escala, maior o preconceito.
Por outro lado, o presente é um tempo verbal de desconfiança. Dos 25 álbuns de hip-hop mais ouvidos de 2023, apenas quatro são deste ano: Heroes & Villains, de Metro Boomin’, Hope de NF, Almost Healed de Lil’Durk e Utopia, de Travis Scott, o único blockbuster dos quatro. For All The Dogs, de Drake, Pink Friday 2, de Nicki Minaj, e Scarlet, de Doja Cat, previstos para o último trimestre, são sérios candidatos a #1, mas não resolvem o problema central. A linha que une números e reconhecimento chama-se relevância. Nem há novos Lamars no horizonte, nem a contra-resposta de colectivos revivalistas como Griselda, que na dinâmica entre colectivo e individual tiram papel químico dos Wu-Tang Clan, tem o engenho necessário para transcender a cultura e a cultura se transcender.
Pelo retrovisor de 2013, vêem-se Long.Live.A$ap, de A$ap Rocky, Nothing Was The Same, de Drake, Acid Rap, de Chance The Rapper, My Name is Name, de Pusha T, e Yeezus, de Kanye West - uma mão cheia de tanto, ou a impressão digital de um novo tempo, um novo som, uma nova mentalidade desejosa de conquistar mundos para o hip-hop. Estavam certos os que viram a mina do futuro.
Dez anos depois, o cenário é desolador, e nem é por falta de bons álbuns. Sundial, de Noname, Michael, de Killer Mike, Kaytraminé, a sociedade de Kaytranada e Aminé, No Thank You, de Little Simz ou Beloved! Paradise! Jazz!?, de McKinley Dixon, apenas para citar alguns casos com menos de dose meses, são provas irrefutáveis de vitalidade. Só que a influência destes é em zonas periféricas, cinzentas, ou apátridas, importantes para espetar o pau na engrenagem, mas sem o porte para sabotar a direcção.
Até The Life of Pablo, em 2016, dizia-se que ano de álbum de Kanye West era de melhor do ano. Daí para cá foi o descalabro, e embora Jesus is King mereça a redenção, perdeu-se a referência. Kanye destrancou portas para que os seus contemporâneos pudessem entrar sem pedir perdão ou licença. Quis ser melhor para ser maior mas à medida que o hip-hop se apoderou do mercado e algumas das novas figuras se deixaram armadilhar pela validação dos números, bancários e algorítmicos, perdeu um dos seus rins: o desejo imparável de continuar a escrever história, de ser Mona Lisa, Pullitzer ou Tom Ford, de estar em Coachella, Glastonbury, na Forbes ou na Casa Branca.
Nem os partidários do rock reconhecem irmandade ao hip-hop nem os fiéis do hip-hop aceitam pacificamente as semelhanças mas, no entanto, as duas histórias são gémeas com algumas décadas de diferença. Tal como o rock, é um filho da desigualdade. Da luta pela emancipação de comunidades negras desfavorecidas, e também da música enquanto tábua de salvação e esperança colectiva. Ao fim de 50 anos, o hip-hop já passou pelas três etapas definidoras das enciclopédias do rock: rejeição, afirmação e massificação. Se traçarmos uma linha imaginária, era aqui que há vinte anos se encontrava a cultura rock. Por um lado, infantilizada e mergulhada num esgoto machista de medíocres como Limp Bizkit, Sum 41 ou Blink 182. Por outro, a revisitar fundaçōes e a redescobrir fundamentos graças a bandas como Strokes, White Stripes, Interpol ou Yeah Yeah Yeahs. Mas já sem grandes sinais de futuro e, sobretudo, adulterada nos seus veículos adolescentes. Exactamente como agora, apesar de podermos reconhecer no hip-hop um veículo poético e de compromisso com a palavra que provavelmente a literatura não consegue estabelecer com os novos sujeitos.
Se a democratização de ferramentas foi o punk do Séc. XXI, o hip-hop foi o género com maior mobilidade social e capaz de projectar novas vozes filhas de comunidades desfavorecidas e marginalizadas, das quais nos era apenas contado um lado da história. Portugal, com figuras de Julinho KSD aos Wet Bed Gang, Nenny e Plutónio, e tantos outros, menos expressivos no mercado, de Real G.U.N.S. a Tristany, tem algo a dizer sobre isto.
Os processos de costura do hip-hop estão por toda a parte na música popular mas ironicamente, o que se observa é uma dissociação entre quem “consome a cultura” e as outras culturas. Talvez porque o hip-hop se tornou tão esmagador que se considera autosuficiente. Para uma história de tributo e admiração que teve no sample da soul, do funk, do jazz ou do reggae o solo onde cresceram as moradias e arranha-céus, é uma heresia assistir a este corte de relaçōes bilaterais, com tanto de musical, de quem o produz, como de social de quem o consome. E nesse aspecto, está em contraciclo com uma ideia saudável de pós-pop em que importa a personalidade e não o género. É um grande continente mas com poucas fronteiras abertass.
Tratar o hip-hop como uma avenida de sentido único é uma generalização perigosa. E quantas mais pontas soltas, mais ângulos de visão, com toda a subjectividade comportada por cada um. Mas até olhando a alguns acontecimentos recentes da vida portuguesa, podemos chegar a esta sensação de impasse. O decepcionante concerto de Kendrick Lamar no Primavera Sound podia ser apenas uma má noite, prejudicada pela falta de dinâmica, e por uma aparelhagem impotente para a massa humana, mas há outro problema. Nas duas visitas anteriores, ao Primavera em 2014 e ao Super Bock Super Rock, em 2016, Lamar tinha muito a provar ao mundo. E demonstrou-o. Por ele e pelo movimento. Em 2023, pareceu demasiado confortável e até inatacável, discordando do auto-questionamento permanente e desconfortável de Mr. Morale & The Big Steppers. No mesmo festival, também vimos Pusha T dar um concerto de mão cheia para fiéis e conhecedores - “If you know, you know” - e um mês depois, os Wu Tang Clan arrastaram turmas de outras escolas até ao Meco. Os pais revisitaram a inocência do tempo em que eram filhos; os filhos compreenderam uma parte da adolescência dos pais. E agora?
Não há futuro sem memória, mas um passado sem presente é apenas um pretérito que, por mais perfeito que seja, é apenas um retrato de época. Devolução, evolução e revolução não são bem a mesma coisa. E se calhar nesta altura, o hip-hop não precisa tanto de voltar à semente, como os puristas habitualmente reivindicam, mas sim de perceber por que razão a árvore cresceu para os lados e não para cima.